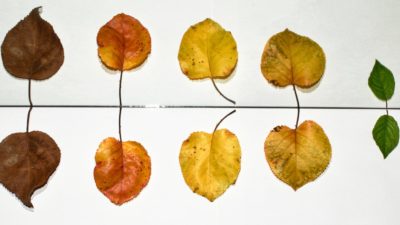Em vinte anos de vida independente, jamais pensei em adquirir uma televisão. Levei muito a sério o triste de quem é feliz, contente com o seu lar, de Fernando Pessoa. Associei imagens melancólicas ao brilho azulado projetado no sofá e ainda hoje acho a tv um eletrodoméstico muito feio para se ter num cômodo cuja função principal é acolher as pessoas, a sala de estar.
Mas aí achei que não fazia a menor diferença comprar uma tevê ou não, porque afinal a tela do celular e do laptop agarraram a nossa geração com a mesma força e intensidade com que os tubos e suas antenas o fizeram na de nossos pais. E eu queria assistir ao cinema clássico e estava cansado de não poder fazê-lo. Kurosawa, Robert Bresson, Orson Welles. Nada contra as séries. Mas que uma série seja uma opção, não a falta dela. A gota d’água foi uma palestra do filósofo francês Gilles Deleuze sobre a arte criativa, proferida em março de 1987: “Que é o ato da criação?”
Comprei a tevê e um dos primeiros filmes que decidi assistir foi E o vento levou… no sábado passado. São quatro horas de filme, o equivalente a um terço de temporada de uma série qualquer. Apesar de consagrado, o filme era inédito para mim.
Gone with the wind foi o filme preferido de minha avó Candinha. Para agradá-la, a cada ano ou dois anos de minha infância e adolescência, a família o exibia num domingo após o almoço. E eu ia para o quarto ou saía de casa nessas horas. Nas poucas cenas que tinha visto de relance, deu para perceber que o longa-metragem seduzia por meio de imagens antiquadas, ufanava-se de valores decadentes, de imagens de beleza e galanteria que o meu tempo desdenhava.
Pensava em assisti-lo em quatro sessões (como numa série), mas acabei acompanhando a saga de Scarlett O’Hara praticamente numa sentada. E o que vi foi um pouco mais que um clássico. Foi a história da minha avó. A sua infância idílica e mimada, os flertes com as dezenas de pretendentes na adolescência, a revolução civil, o retorno recorrente à terra da infância (a Tara de Scarlett e a Avaré de Candinha), a decadência de uma família aristocrática de província. O filme surgiu em 1939. Minha avó nasceu em 1921. Tinha 18 anosou um pouco mais quando o viu pela primeira vez anunciado nos cartazes do cinema. É o retrato de seu tempo. E sim, é um símbolo de valores antiquados, de imagens de galanteria desdenhados pelo tempo. Numa trama muito complexa, retrata a Guerra Civil nos Estados Unidos narrada pelos perdedores, os secessionistas latifundiários e escravocratas do sul.
São muitas as cenas em que Vivien Leigh, que interpreta O’Hara, desce as escadas aveludadas de sua mansão com a agilidade de uma bailarina clássica. Com sua saia sobre saia sobre anáguas, a imagem é sempre bela e harmoniosa e o diretor sabe como tratá-la. A escada de mármore e veludo transmitia uma ideia grandiosa, uma majestade que se confundia com a dignidade humana, equivalente a outra, muito presente no filme: a das nuvens vermelhas do velho sul. Uma imagem dessas é a que eu queria assistir quando comprei uma tevê, sem entender muito bem a razão. Não à toa, um dos ápices da crise de Scarlett é o momento em que ela cai da escada como quem despenca de um desfiladeiro.
Gone with the wind conta, de um modo ou de outro, a história de minha avó. E talvez seja por isso que ela o tenha assistido durante toda a sua vida. Fico pensando se os poucos livros que lemos como uma questão de vida ou morte também não narrem algo muito essencial que precisamos elaborar de modo recorrente, se a versão heroica e mítica de uma vida escrita não apazigua a outra, conturbada, fragmentada e autocrítica com que costumamos contar a nossa história.
P.S. Um autor que retratou bem o destino do velho sul dos Estados Unidos algumas décadas depois da abolição da escravatura é William Faulkner. Se puder, leia Luz em Agosto. Você não vai se arrepender.