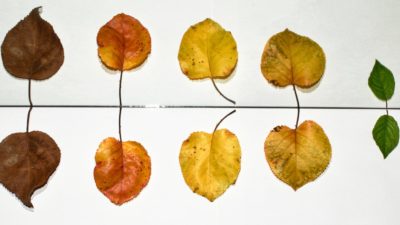Meu pai e o Chico Buarque nasceram no mesmo ano, em 1944, com uma diferença de duas semanas um do outro, e cresceram na São Paulo daquele tempo em que se jogava bola na rua e da janela na Peixoto Gomide meu pai conseguia avistar o Hospital das Clínicas. Meu pai conta que, de moleque, já tinha visitado a casa do Chico, mas que o Chico na época não era o Chico, era só um menino de calças curtas que gostava de tudo que as crianças gostam, e que por isso não registrara muitos detalhes nem nada digno de nota. Para colorir o anticlímax da anedota, sempre fico imaginando se naquela tarde, acaso o pai, o Sérgio, estivesse redigindo no andar de cima, trancado em seu gabinete, algumas linhas de “Visão do Paraíso” ou “Raízes do Brasil”, enquanto as crianças brincavam de bolinhas de gude.
Lembrei dessa história quando resolvi ter prova do apetite popular examinando a ilha dos livros mais vendidos em uma livraria do meu bairro. Levei comigo uma cópia da “Biblioteca da Meia-Noite”, que o meu irmão está me amolando para que eu leia, em sexto ou sétimo lugar dentre os best-sellers. E em primeiro lugar na lista de ficção, “Bambino a Roma”. O bom de trabalhar com escrita é que, com a desculpa de que se está trabalhando, você consegue desmarcar compromissos e passar uma tarde quente de inverno na companhia das memórias literárias, reais e inventadas, com um Chico septuagenário revivendo seus anos de menino, mais especificamente os dois em que sua família viveu na capital italiana, entre 1953 e 1954.
A trilha sonora, os passeios de bicicleta, o humor despojado, a boina do colega da quitanda, tudo remete à nostalgia, à inocência, ao cinema em preto e branco do passado, às matinês de um tempo que não vivi, mas ainda assim nos deixa saudade. Falo com meu pai que comprei o livro novo do Chico, e ele dá de ombros e me diz que não gosta dos seus livros, que leu “Estorvo”, “Leite Derramado”, e não cometeria o mesmo erro. Ambos fizeram oitenta anos este ano, e é preciso respeitar-lhes o gosto. A nostalgia do meu pai impede-o de ver como boas as músicas e literaturas no século 21. O que não há, penso, é um bom filme dos anos 1950 rodados em 2024, embora eu ache que o livro do Chico é um pouco como um filme antigo, com trilha sonora de Leslie Caron e atrizes de olhos brilhantes e chapéus de aba longa.
Na leitura, quando o livro é bom, a gente corre o belo risco de viver uma transfusão de infâncias, como nessa passagem, que fala já de tudo o que ficou para trás, e de como este antes nunca tem fim.
“Porque no estrangeiro é tudo estranho, assim falou uma das crianças, e o dito lá em casa virou mote. Eu não estranhava a língua nova ou a cidade antiga, para tudo isso já estava ensinado. Estranho, estranho mesmo era alguma coisa que eu não via, uma coisa que faltava em toda parte, e de noite eu perdia o sono matutando nisso; era dessas adivinhas difíceis de decifrar e que quando decifra a gente exclama: é claro!”
Dá vontade de abraçar o Chico. Não posso, não tem problema. O livro está na cabeceira. Abraço o meu pai.
E outro para você,
Tiago