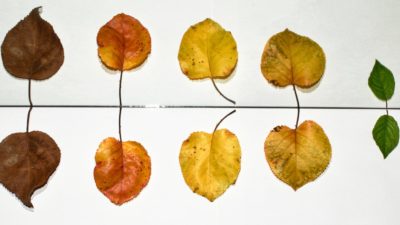Não sei se você já reparou, mas desde que o Leonardo di Caprio não pode mais recorrer ao expediente do galã de olhos azuis de “Romeu e Julieta” ou de “Titanic”, em muitos de seus filmes ele tem representado o mesmo papel. O papel de impostor.
Começou em “Prenda-me se for capaz”: o golpista compulsivo que se passou por aviador da Pan-am, médico e advogado. Ou o stock broker de “O lobo de Wall Street”, com sua camiseta polo debaixo da calça, seus óculos escuros, suas carreiras de cocaína, um homem que acaba tropeçando nas próprias fraudes e vê ruirem, um a um, os objetos de consumo de que se rodeou: o carro do ano, a casa do ano, a esposa do ano. Destes filmes, gosto muito de um dos mais recentes, “Era uma vez em Hollywood”. Di Caprio é Rick Dalton, um ator decadente, conhecido pelo papel de mocinho em filmes de bangue-bangue e de valentões linha-dura. Acontece que os tempos mudaram. Em 1969, os jovens da contracultura circulam por Hollywood. Os westerns estão ficando para trás e o próprio Dalton passa aos papéis secundários: bandidos de bigodes enormes e figurinos cheios de penduricalhos, o próprio ator é convidado a esconder-se atrás de seu papel estereotipado. A esta altura, Dalton não acredita mais em si mesmo. Bebe demais, tosse demais, não consegue mais decorar as suas falas. O sucesso acabou com ele.

É isto o impostor. Alguém que se passa por outra pessoa. O papai-noel que entra pela porta e oferece brinquedos às crianças na véspera de Natal é um impostor. Ou o pintor especializado em reproduzir e passar adiante Picassos e Degas desconhecidos a colecionadores desavisados. Um impostor é aquele que imita os movimentos de outra pessoa. O tio das crianças não veio do Pólo Norte. Os brinquedos foram comprados num shopping center, e não foram forjados por duendes numa fábrica multicolorida. O pintor reproduz as cores, os movimentos da tela. Ele não está preocupado em desenvolver um estilo próprio, mas o de um outro. Ele pega carona naquilo que já foi consagrado. E por isso, de algum modo, o impostor acaba obrigado a se esconder. A reprodução é um reconhecimento da fraude, da própria desimportância.O impostor reaparece em “O Grande Gatsby”: o misterioso magnata, anfitrião de festas iluminadas. É di Caprio que faz o papel de Gatsby. O modo meio forçado com que Jay Gatsby se refere a Nick Carraway com a expressão desusada “Old Sport” soa falso para o protagonista e para o leitor. Como saberemos na leitura do romance de Scott Fitzgerald, Gatsby não é quem imaginamos que seja.
“F for Fake”, do Orson Welles. Já viu?
Nunca me esqueço de uma conversa que tive com dois amigos da faculdade. Um deles nos contava que estava trabalhando com um sujeito muito conhecido, frequentemente entrevistado para matérias de televisão e de jornal. E ele comentava que o sujeito era muito bom no que fazia, mas que também era um tanto ”canastrão”. O outro amigo, que participava da conversa, fez um comentário curioso: “Mas não somos todos um tanto canastrões?”Muitos artistas em algum momento já se enxergaram como fraudes. Eles têm uma convicção, que às vezes lhes falta. Aquilo que fazem de repente lhes parece uma bobagem, algo desimportante. O sujeito que escreve se arrisca à insignificância. É curioso, contudo, que os verdadeiros artistas da fraude – em inglês, a expressão para vigarista é “con-artist” – não se sentem mal por isso. Os plagiadores não ficam cheios de dedos no momento de tomar trechos das teses alheias, em roubar os anos de estudos de um terceiro.
Faz um tempo, traduzi a biografia da Marina Abramovic para a Edições Sesc, a artista da performance que fez muito sucesso aqui no Brasil com o “A artista está presente” e que teve uma exposição no Sesc Pompeia, em São Paulo, durante alguns meses. Havia toda uma celeuma de que ela tentava patentear em seu treinamento certas técnicas de meditação milenares. Em um dos workshops dos quais o biógrafo participou, ela recomendava veementemente que certos alimentos não poderiam ser ingeridos, que se devia evitar comidas alaranjadas, por exemplo e toda sorte de regras para os artistas. Ao fim de vários dias de imersão, o biógrafo pegou uma carona com a Marina em sua limusine. Ali dentro, havia duas garrafas de Fanta esperando por ela em um baldinho de gelo.
– Mas Marina, você não disse que não se pode tomar nada que seja laranja?
– Ah, mas é Fanta! – ela respondeu.
Ela não parecia preocupada com a contradição. Mas muitos artistas são avassalados pelo sentimento de que não passam de impostores, de que estão se fazendo se passar pelo que não são. Em geral, como disse, são aqueles que buscam algo próprio. São os cuidadosos, os escrupulosos, os que reconhecem que atrás de si há toda uma tradição da qual se valem. São extremamente ciosos dos próprios limites, e isso lhes faz sofrer. No filme do Tarantino, Dalton dá um destino ao seu lado canastrão: decide continuar os seus filmes na Itália, onde os bangue-bangues ainda são valorizados, e seu sucesso poderá desfrutar de uma sobrevida. O ator – di Caprio – fez algo parecido. Existem muitos atores e cantores que desaparecem quando deixam de ser um rostinho bonito. Se somos todos meio canastrões, como disse o meu amigo, di Caprio soube aproveitar isso em alguns de seus maiores papéis.
Talvez haja algo a aprender com isso.